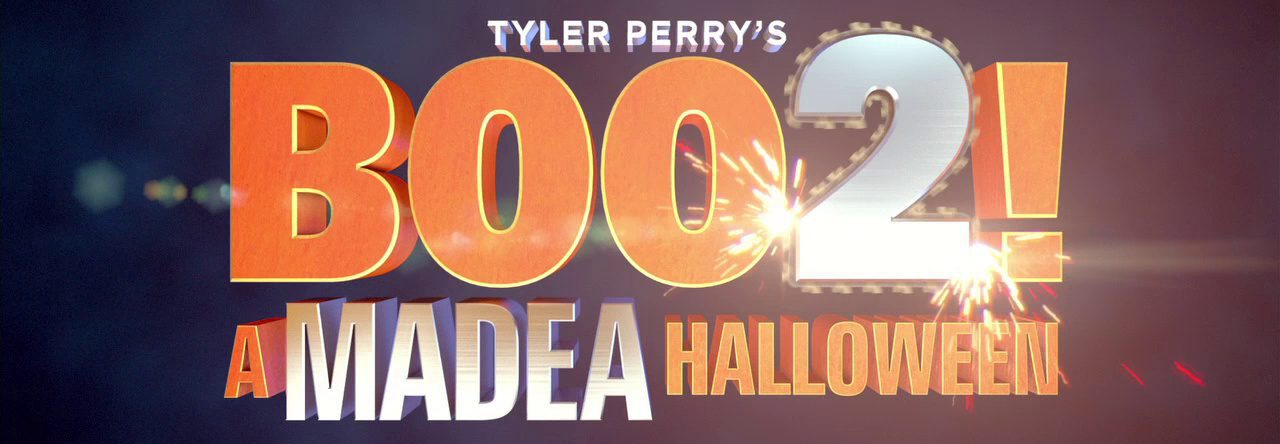★★★
Trezentos anos se passaram desde a nossa última visita ao Planeta dos Macacos. Parece que sim. Em termos reais, são sete anos desde que o César de Andy Serkis expirou a sua bobina mortal, meros momentos depois de o seu bando de símios superiores finalmente ter chegado ao oásis paradisíaco. O legado de Serkis – e, de facto, do seu homólogo chimpanzé – pesa muito Reino, filme quatro na era da reinicialização. Vindo de uma barra já alta, o avanço é surpreendente e os macacos nunca olharam, nem balançaram, melhor. A humanidade, entretanto, regrediu. Você decide de que lado da tela.
Um foco no caráter e preâmbulo narrativo empresta Reino um ritmo mais calmo do que seus antecessores Matt Reeves. Esta é a entrada do diretor Wes Ball, que cortou seus dentes distópicos no Maze Runner filmes, e escritor Josh Friedman, cujas lições de estilo sobre substância de James Cameron claramente valeram a pena. Isso não quer dizer que o reino seja totalmente sem peso; não, apenas que o sentido primordial aqui é que o melhor ainda está por vir. Assumindo o sucesso, Reino é o primeiro de uma nova trilogia, cada uma aproximando a história cada vez mais da adaptação original de Franklin J. Schaffner de 1968 do romance Pierre Boulle. Tal como está, o dia 25 de novembro de 3978 continua um pouco afastado.
O discurso já não é uma raridade entre os macacos-o ‘ não ‘ de César! é uma memória distante – mas a deles é uma civilização simples. O ponto de referência, ao que parece, é o paganismo e a cultura nativa. Há anciãos, hierarquias e direitos de passagem. Entretanto, muito tempo e esforço são dedicados à formação da águia, uma ideia concebida para efeitos e não para lógica contextual. Na ausência de Serkis, Owen Teague lidera como Noa, um chimpanzé de olhos arregalados, motivado pela sua sede de impressionar e fé no sistema. É um arco conscientemente familiar que aumenta a incerteza juvenil de Noa no início do filme, apenas para uma determinação estóica de descer através da experiência além do acampamento. O gosto de César pela humanidade nasceu de ter visto o potencial da raça para o bem. Kingdom pondera quão diferente isso poderia ter sido se a história tivesse sido jogada ao contrário.
Seja qual for o caminho, o Rise para Guerra a fórmula permanece, em grande medida, no tacto. Há bons macacos e maus macacos; bons humanos e maus uns. De acordo com, o tipo podre é mais visualmente irregular, enquanto o decente tem olhos cheios de alma e características suaves. Enquanto Peter Macon prova uma alegria subutilizada como Raka, um orangotango de Bornéu que vive pelos velhos hábitos, Kevin Durand é adequadamente vil como o tirânico bonobo Proximus Caesar, cujo interesse pela história humana lembra um meme recente. Acontece que os monarcas bonobos pensam no Império Romano ainda mais do que o homem médio do século 21.
Quanto ao contingente humano, Freya Allan é uma representante intrigante como Mae. O desenvolvimento de seu vínculo esperado com Noa prova afetar suavemente a visualização, mas é seu impacto nos filmes dois e três que realmente contam. A Directiva de Ball é injetar ambiguidade moral numa dinâmica que, até agora, era largamente clara. Para o efeito, Reino oscila no limite, superestimando a disposição de seu público de pendurar fogo na esperança de inscrições mais animadas por vir. Resta saber se o sentimento predominante que sai do filme é um desejo fervoroso de mais. Dito isto, a atração da franquia não pode ser negada. Não existem outros filmes em que os macacos possam ser vistos a cavalo.
Certamente, são os visuais da peça que realmente a destacam. Reinoo mundo é um banquete para os olhos-todos verdejantes e expansivos – e emocionante de explorar. Em uma época de crises climáticas, há um fascínio sombrio na realização de um futuro alternativo no qual a natureza vence. Que mundo seria esse. Dê-lhe mais trezentos anos, nunca se sabe.
T. S.